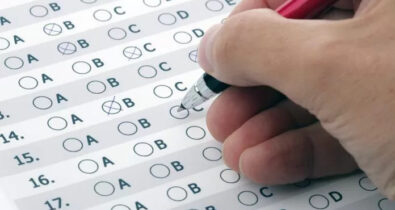POLÍTICA
Ministro do STF diz que “Abalar instituições é como perder a alma”
O ministro defende que o Judiciário e a academia falem mais para a sociedade

Luís Roberto Barroso, 57 anos, trava uma luta pela simplicidade e pela clareza. Ministro do Supremo Tribunal Federal e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e do Uniceub, ele, de forma direta, critica o atual jogo na Esplanada: “Abalar instituições para obter resultados políticos imediatos é um pouco como perder a alma imaginando que se está ganhando o mundo”. Indicado para o posto no STF pela presidente Dilma Rousseff, Barroso afirma, entretanto, que a partir do momento da posse, um ministro do tribunal perde o vínculo com o Planalto. “As pessoas vivem para a sua própria biografia. Ninguém vive para a biografia dos outros.” Mas faz uma consideração sobre a petista: “Acho que ela é uma pessoa de bem que está vivendo um momento em que as coisas não deram certo. Então, acho que ela deve estar vivendo um momento de grande sofrimento pessoal. Esse é o meu sentimento”.
O ministro defende que o Judiciário e a academia falem mais para a sociedade. “O discurso é um instrumento de poder, a linguagem codificada e empolada exclui do debate quem não tem essa chave de conhecimento”, diz ele, que chegou a propor, com outros integrantes do STF, um pacto pela brevidade dos relatórios, cada vez mais extensos depois da implementação da TV Justiça. Nascido em Vassouras, um município aprazível localizado a 120km da capital fluminense, o ministro vai ao Rio toda quinta para dar aula na UERJ. Volta para Brasília ainda na sexta. Isso explica as fotos panorâmicas das praias e morros cariocas que decoram o gabinete do quarto andar do anexo do Supremo. Ali, durante 90 minutos, Barroso falou com o Correio sobre a “imoralidade do financiamento privado de campanha”, a descriminalização das drogas, os direitos individuais e a crise nos estados.
O senhor se sente mais confortável na sala de aula ou no tribunal?
O meu mundo é do debate de ideias, é o que gosto de fazer. Sou professor, estou juiz. No Supremo, às vezes, você consegue fazer um debate de ideias, às vezes não. Fiz toda a minha vida fora do poder. O poder não me seduz. Às vezes, me inibe, não só pela cerimônia que as pessoas passam a ter, mas também por me autoimpor limites do que posso dizer. Até falo com certa liberdade. Não sobre processo que vou julgar e não comento votos de colegas. Mas os meus votos eu comento, eu explico.
Quando o STF teve bons e maus debates?
O problema é que temos uma pauta cheia. Sou contra o modelo de atuação do STF. Com a pauta cheia, tem que fazer a fila andar, então não é sempre que você consegue um debate maior. Às vezes, sim, como nas drogas. Ali fiz um voto longo porque achei que precisava. Se você assistir à sessão, os votos dos ministros Gilmar e Fachin são tradicionais, com citações de autores e teses jurídicas. Fiz um voto para a sociedade, tentando expor quais as razões pragmáticas e jurídicas eram importantes para descriminalizar a maconha. A linguagem que você se dirige à sociedade é diferente da linguagem interna. Não sou um sujeito que fala juridiquês, a linguagem deve ser simples, clara e direta. Tento fazer que, no âmbito do direito, a linguagem não seja instrumento de poder. A linguagem codificada, empolada, é uma forma de excluir do debate quem não tem essa chave de conhecimento.
A TV Justiça colabora para isso?
Tem fatos positivos, mas um dos fatos negativos é o tempo dos votos, que aumentou. Isso já foi apurado. Sou orientador de um trabalho que fez essa pesquisa. Mas já há um movimento interno de votos mais enxutos. Nesses dias, fizemos uma reunião informal. Eu, o ministro Marco Aurélio, o ministro Fachin e o ministro Teori. Fizemos um pacto de que os votos sejam mais rápidos, como regra. O relator terá não mais do que meia hora. Com um voto de meia hora, você consegue julgar algumas coisas no plenário.
A academia também tem um discurso rebuscado, o tal discurso do poder…
Tem. Mas não na UERJ. Lá, tem uma geração sobre a qual tive alguma influência, pessoas que foram meus alunos. Conseguimos fazer uma revolução da simplicidade. Ali já se fala para o grande público geral. O que não conseguimos foi fazer a revolução da brevidade. O mundo jurídico é um mundo de pessoas que falam muito, que escrevem longamente, pessoas que têm um certo prazer excessivo de ouvir a própria voz. Portanto, essa é uma transformação cultural que exige uma mudança mais radical. Mas chegaremos lá. Na vida acadêmica, estamos quase chegando a um padrão internacional de qualidade. E, no geral, estamos chegando a um tipo de amadurecimento institucional em que as questões relevantes aqui são relevantes em todas as partes do mundo.
Por exemplo?
A descriminalização de drogas é um debate mundial, como também as uniões homoafetivas, a morte digna, a interrupção da gestação, o debate legítimo de atuação do STF e do Congresso. Nesses 30 anos de democracia, amadureceram questões que nos inserem no debate mundial.
O nosso Congresso, porém, parece regredir.
Na democracia você tem espaço para debates conservadores, liberais ou progressista. Não me incomodo com a pauta conservadora. O que me incomoda um pouco no Brasil é a falta de qualidade de um debate público, a falta de troca real, efetiva e ética de argumentos.
Por exemplo?
A questão da maioridade penal. Não tenho simpatia pela ideia, mas não acho que seja uma briga de torcidas. Existe demanda da sociedade por mudança na idade penal. É compreensível e desejável que Congresso faça o debate. Numa democracia nenhum debate é tabu. Agora quem é a favor da redução da maioridade penal tinha que apresentar as seguintes informações: a mudança da lei vai atingir xis pessoas entre 16 e 18 anos; para abrigar essas pessoas, precisamos construir tantas vagas no sistema penitenciário; essas vagas têm custo de xis milhões de reais. E aí a sociedade vai fazer um debate esclarecido sobre a conveniência e o custo. O debate tem que ser travado com dados, a partir de estudo de impacto legislativo. Mas tudo se move em função de palavras de ordem, de rótulos depreciativos. O atual debate se preocupa em desqualificar a posição do outro. É o debate do “tenho mais virtudes, por isso o meu argumento é melhor”.
A imprensa estimula isso?
A imprensa, às vezes, conduz, mas geralmente reflete o sentimento social. Alguns espaços na imprensa fomentam o discurso radical, de desqualificação do outro. Sou militante da crença de que quem pensa diferente de mim não é inimigo, é parceiro na construção de uma sociedade plural. No plenário do STF, presto atenção ao que os outros falam e trabalho o argumento, seja para aceitar seja para divergir. Vinícius de Moraes tem uma frase que gosto: “Bastar-se a si mesmo é a maior solidão”.
No mensalão, o clima no plenário no STF era acalorado. Isso mudou?
Não vivi esse tempo no STF, mas no geral o debate aqui é cordial. Pode ter um ou outro mau momento, mas acho um pouco injusto dizer que aqui seja um ninho de cobras, e que as pessoas não se gostam. Não é verdadeiro isso. O que talvez seja verdadeiro é que o tribunal tem uma dinâmica em que os ministros trabalham individualmente. Há muitas razões para isso, de modo que essa crítica é fundada. Às vezes o tribunal não fala com uma voz coletiva, como instituição. Por vezes, fala com vozes individuais. Isso é uma circunstância. Um tribunal que recebe 50.000 processos por ano não consegue decidir tudo no colegiado. Por isso a maior parte das decisões é monocromática, depois, quando é importante, é que se leva ao plenário.
Como sair dessa situação?
Existe uma visão terceiro mundista que precisamos superar: a de que tudo deve chegar ao STF. O Supremo, por sua vez, tem uma certa voracidade de julgar coisas demais. Já temos competências demais e não usamos bem os filtros para diminuir os recursos. Certamente excluiria quase todas as competências que temos de foro privilegiado. Gostamos do foro privilegiado, isso é um risco.
O senhor é contra o foro privilegiado?
Radicalmente. Isso é um resquício aristocrático e antirrepublicano que conservamos. Talvez o presidente da República e os chefes de poder deveriam manter o foro. Fora isso, tenho uma proposta que já está sendo veiculada que é de criação de uma vara federal especializada, em Brasília, cujo titular seria escolhido pelo Supremo e que teria tantos juízes auxiliares quanto a demanda exigisse. E das decisões desse juiz caberia recurso no Supremo ou STJ. Isso tiraria um pouco a carga política do STF ou de que uma decisão não cabe recurso. Outra coisa: o filtro da repercussão geral está sendo mal utilizado. O STF não deveria admitir por ano mais recursos extraordinários do que possa julgar. Tudo que não tenha sido selecionado para ser julgado num prazo de um ano deve transitar em julgado. O país vai ter que conviver com a ideia que vigora em todos os países civilizados de que o acesso à Justiça e o devido processo legal se realizam em dois graus de jurisdição. No Brasil, se criou uma cultura de que tudo tem que ter quatro graus de jurisdição. É nefasto para a tramitação. Na vida civilizada, um processo tem que acabar em seis meses, um ano. Se for muito complexo, 18 meses. No Brasil, a média é superior a cinco anos. Isso também é um caso terceiro mundismo explícito: a dificuldade de reconhecer que existe um problema, e enfrentá-lo abertamente.
O protagonismo do STF está ligado à falta de ação do Legislativo e do Executivo?
É o fenômeno da judicialização. Há uma certa judicialização da vida em geral, mas vou cuidar apenas do STF. Em algumas dessas matérias controvertidas, o Legislativo e o Executivo não conseguem produzir consensos. Temas como casamento de pessoas do mesmo sexo, interrupção da gestação, sistema penitenciário, que é uma minoria invisível que não consegue mobilizar as maiorias políticas, muitas vezes não são resolvidos na administração ou no Congresso. Mas, como os problemas surgem na vida real e existem litígios, elas acabam chegando no Judiciário, que atua mesmo não havendo lei. Às vezes, há uma certa queixa de que há uma judicialização de questões morais ou da política. Isso só acontece quando o Congresso não a age. Quando o Congresso atua, o STF não tem uma posição ativista. Temos como regra de uma posição de autocontenção. Por exemplo, nas pesquisas com células-tronco embrionárias, o STF deu a última palavra. É verdade, mas o STF deu a última palavra porque o procurador-geral questionou a lei que autorizava as pesquisas. De modo que a matéria foi judicializada, mas a posição do Supremo não foi ativista. Você tem decisões mais proativas geralmente quando o Congresso não atua, como foi o caso de uniões homoafetivas, interrupção da gestação e o nepotismo. Uma decisão um pouco mais proativa foi a que ainda está em curso que foi a decisão de descriminalização da maconha. Nesse caso, existe uma lei que criminaliza o porte, inclusive para consumo pessoal. Essa é uma decisão um pouco mais ativista. E um pouco mais contramajoritária porque ela não apenas invalida uma lei, mas também porque não corresponde à posição da maioria da sociedade. Por isso, ao votar, em vez de usar uma argumentação interna, usei uma técnica de fazer um diálogo com a sociedade para demonstrar as razões pragmáticas e jurídicas pelas quais a política de guerra às drogas não deu certo, nem no Brasil nem em lugar nenhum.
E qual o retorno que o senhor recebeu?
Nem sempre a decisão correta é a mais popular. Nosso papel é fazer o que é certo. Ainda assim tenho uma preocupação de manter um diálogo com a sociedade. Por exemplo, sou relator da execução do processo do mensalão. Em determinado tempo de prisão em regime fechado, uma pessoa tem direito de progredir para o semiaberto, depois que completa um tempo no semiaberto vai para o aberto. Isso vale para todos, para os réus comuns e para os réus que sociedade não gosta.
Mas as pessoas nem sempre entendem.
Sim. As pessoas nem sempre conseguem entender. Precisava dar uma entrevista para explicar a progressão da pena. O sistema no Brasil parece mais leniente. Essa é uma questão do sistema penitenciário brasileiro. É quase um sistema de rodízio. Mas, se a sociedade brasileira quiser um direito penal mais duro, e esse também é um debate público do qual a gente não se deve furtar, ela precisa saber que precisa alocar mais recursos no sistema. Endurecer o sistema penal custa mais caro.
O sistema penal do país é um desastre?
É um sistema que reproduz falhas históricas da formação nacional em matéria de desigualdade e em matéria de deficiência estatal. É um sistema feito para pegar pobres. Funciona assim em parte por causa da legislação, em parte por causa da jurisprudência e em parte por causa da cultura do país. Continua a ser muito mais fácil no Brasil você prender um menino com 100 gramas de maconha que prender o empresário por um golpe de R$ 10 milhões. O sistema de prescrição favorece o momento que você pode começar a execução da pena. A decisão do STF de exigir o trânsito em julgado que algum momento precisa ser revista para você poder executar as penas. No mundo todo basta decisão de primeiro grau ou de segundo grau. No Brasil, acho que o poderíamos ficar no segundo grau. Quando STF estabeleceu que, mesmo depois segundo grau, não podia prender, teria que esperar o trânsito em julgado, todos os advogados criminais se tornaram, por dever de ofício, pessoas que prolongam um processo indefinidamente para impedir a prisão do cliente e ter a prescrição. Então depois da decisão final do Tribunal de Justiça você tem um interminável capítulo. São recursos atrás de recursos, geralmente infundadas para conseguir a prescrição. Não é culpa dos advogados, eles estão fazendo o papel deles de defender os clientes. A lei é que é um desastre. Se você mudar a prescrição e o momento em que você pode começar a executar a pena, mudar o sistema de recursos para impedir abusos, você promove uma pequena revolução jurídica. Em seguida, tem que fazer uma revolução cultural, que é entender que rico pode ir para a cadeia se tiver cometido crime.
As prisões que Sérgio Moro determinou mudaram um pouco essa visão?
O mensalão e o petrolão mudaram um pouco a regra geral. E fizeram com que o relator do mensalão e agora o juiz do petrolão tenham se tornado símbolos relevantes e positivos para a Justiça. Portanto, se tornaram heróis. Você só precisa de heróis quando as instituições não estão funcionando. Porque se a regra fosse a punição de corruptores e corruptos, quem concretiza isso não se tornaria herói. Estaria fazendo a rotina da vida. O sistema penal é ruim, é manso com os ricos e duro com os pobres. Quem quebra essa lógica vira herói. Não tenho nada contra heróis. Mas acho que isso é uma demonstração de que o sistema não funciona bem.
O senhor concorda com o tempo das prisões temporárias da Lava-Jato?
Não posso, não devo e não quero comentar matéria que vá chegar ao STF. Mas posso comentar o sistema: existe um número excessivo de pessoas presas temporariamente. Não é bom. Mas a causa disso é que, como os processos não terminam nunca, o Judiciário acaba usando a prisão temporária em intensidade maior que seria o desejado porque muitas vezes essa acaba sendo a única punição. É ruim um sistema que tenha esse excesso de prisão temporária como é ruim um sistema em que a punição não chega porque o processo não termina.
O STF, ao analisar o rito do impeachment, é um exemplo de judicialização?
Não vou comentar a tramitação do rito do impeachment porque é uma matéria que provavelmente vai chegar aqui. O que posso dizer é que o rito de impeachment não é uma questão interna corporis do Congresso. Rito de impeachment é uma questão constitucional. Portanto, não há nada de surpreendente em que o ministro Teori ou a ministra Rosa tenham produzido decisões nessa matéria, não estou entrando no mérito, estou apenas dizendo que não há nada de surpreendente nisso. Sobre o mérito do impeachment, não posso falar, mas gostaria de dizer que o Brasil conseguiu em 30 anos de poder civil construir instituições. E instituições que estão se consolidando e que têm servido bem ao país. Não se sacrificam instituições no altar da política. Portanto, o ímpeto de abreviar um governo que eventualmente tenha se tornado impopular não pode comprometer as conquistas institucionais que obtivemos nesses 30 anos. Abalar as instituições para obter resultados políticos imediatos é um pouco como perder a alma imaginando que se está ganhando o mundo.
Que instituições são essas?
As regras do jogo democrático, a legalidade constitucional, os ritos. O problema é o sistema de governo hiperpresidencialista que, no Brasil e na América Latina, é uma usina de crises periódicas.
Como assim?
Em 2006, escrevi uma proposta de reforma política. Um dos capítulos era mudar o sistema de governo do hiperpresidencialista para um semipresidencialista, como na França e em Portugal.
O senhor apoia o parlamentarismo?
O sistema semipresidencialista é um meio-termo entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Funciona assim: o presidente é eleito diretamente, essa é uma demanda da sociedade que a gente não pode nem quer mudar, a eleição direta para presidente. Com a eleição direta, o presidente tem uma carga de legitimidade pessoal e conserva algumas competências importantes, como nomear ministros de tribunais superiores, comandantes militares, embaixadores, ter iniciativa de projetos de lei e nomear o primeiro-ministro. Só que o primeiro-ministro dependeria de aprovação da maioria do Congresso. Esse primeiro-ministro seria chancelado pelo Congresso e conduziria o dia a dia da administração. E o dia a dia da política, esse front inóspito de batalhas. Se levassem a uma perda de sustentação política desse primeiro-ministro, seria destituído pelo Congresso e o presidente enviaria um novo nome para ser aprovado. O presidencialismo não tem essa forma. Se o governo estiver erodindo a base, a sua legitimidade democrática corrente, você não tem uma forma de destituição política.
Mas não há o impeachment?
Para conduzir o impeachment nos termos da Constituição, você tem que imputar um crime ao presidente da República e muitas vezes não é o caso. Não há um crime político, o que há é uma perda de sustentação política e o presidencialismo não tem mecanismo para lidar com isso.
Esse formato resolveria a atual crise?
Certamente. Propus em 2006 para viger oito anos depois. Para não mexer com nenhum interesse posto na mesa, vigoraria depois de dois mandatos. Teria entrado em vigor em 2014. Não estaríamos passando pelo que estamos passando. Nós agora, numa prova de maturidade, temos que pensar lá na frente. Daqui a pouco a crise vai passar. De uma forma ou de outra. Temos que pensar quais são as melhores instituições ali na frente, para dois, quatro, oito, 10, 20 anos.
Com os presidentes da Câmara e do Senado enrolados, a classe política tem credibilidade para fazer essa reforma política?
Não sou um comentarista político. Sou um defensor das instituições. Qual o problema institucional do sistema político brasileiro? Ele vive uma crise dramática de legitimidade. O sistema brasileiro, de eleição para a Câmara, é proporcional, com o voto em lista aberta. É uma desastrosa combinação. Pela seguinte razão: menos de 10% dos deputados são eleitos com votação própria. Mais de 90% são eleitos pela transferência de votos do partido ou coligação. Cada partido faz um número de representantes na Câmara proporcional à sua votação, de acordo com o quociente eleitoral. O que acontece? Como menos de 10% são eleitos com votação própria, o eleitor, em última análise, não sabe quem elegeu. Depois, o eleito a partir de uma transferência de votos partidários, também não sabe quem o elegeu. O eleitor não sabe quem elegeu, portanto, não tem de quem cobrar, e o eleito não sabe quem o elegeu e não tem a quem prestar contas. Um sistema que não resiste a um teste de legitimidade democrática. Este é o grande fator de descolamento entre a classe política e a sociedade, que tem que cobrar isso por mobilização. O STF não pode fazer uma reforma política abrangente. E o Congresso não pode ou não consegue fazer. Quando, em maio e junho de 2013, a sociedade foi às ruas, antes daquilo degenerar era a sociedade pedindo transformação. Foi exatamente no momento da minha nomeação. No dia em que fui ao Congresso, entregar aos presidentes do Senado e a da Câmara o convite para a minha posse, estavam todos reunidos pensando numa reforma política profunda, cobrada pela sociedade. A presidente sinalizou um caminho, seja constituinte exclusiva, seja plebiscito. A classe política, compreensivelmente, se insurgiu porque aquilo a excluía. O povo saiu da rua e a reforma não chegou.
Como fazer para essa reforma sair?
Acredito em mobilização cívica, social. Ordeira, com uma proposta clara. A Lei da Ficha Limpa é um precedente de mobilização em que se conseguiu algum resultado positivo. A reforma política, a que precisamos, depende de mobilização. Precisamos de uma reforma que, primeiro, dê legitimidade à representação popular; segundo que barateie o custo das eleições. O protagonista da democracia tem que ser o cidadão, não o dinheiro. Não é jogo de póquer. Terceiro, é preciso um sistema político que gere maiorias.
O senhor pode explicar melhor?
O voto proporcional em lista aberta gera o descolamento. Sou defensor do voto distrital misto inspirado pelo modelo alemão, em que metade da Câmara é eleita nos distritos e outra metade no voto partidário, de modo que o eleitor tem dois votos, no seu distrito. Aqui, no caso, a Ceilândia seria um distrito, em que cada partido teria seu candidato. O mais votado no distrito entraria. Isso tem a consequência positiva de aproximar o eleitor do eleito, saber quem é o representante daquela comunidade. Será uma mudança revolucionária no Brasil.
E a formação de maiorias?
O país precisa mudar o sistema partidário. Precisamos de cláusula de barreira e proibir coligação. Essas providências em relação ao sistema partidário acabariam com essa pulverização partidária, minimizar os efeitos das legendas de aluguel, em que, respeitando as exceções que confirmam a regra, os partidos são criados para acesso ao fundo partidário, que muitas vezes é apropriado privadamente. Tem também o acesso ao tempo de televisão, que é frequentemente negociado com legendas maiores.
E o financiamento?
Num sistema em que se barateie o custo, o financiamento passa a ser secundário. Como cidadão, prefiro o financiamento misto, em que a participação privada seja de pessoa física.
Foi o que foi aprovado pelo STF, não?
Foi, mas o STF não tem condições de faze ruma reforma política. Primeiro, porque talvez não houvesse consenso aqui dentro. Pontualmente, quando as coisas chegam aqui, o STF se manifesta, mas não tem como fazer uma mudança sistêmica por acórdão. Para o bem e para o mal, isso não é possível. Chegou aqui essa ação da OAB. O sistema que vigorava era uma imoralidade completa. Porque não havia nenhum tipo de limitação relevante à participação de empresas e à circulação de dinheiro no sistema eleitoral. A ação da OAB pedia que se declarasse a inconstitucionalidade de empresa participar do financiamento eleitoral. Pessoalmente, não tenho simpatia pela ideia de empresa participar do financiamento, mas não acho que isso seja inconstitucional. A decisão, se a empresa pode ou não participar, é, a meu ver, uma decisão política a ser tomada pelo Congresso. Esta legislação que declaramos inconstitucional é inconstitucional porque não impõe restrições mínimas à participação das empresas. Quais seriam essas restrições mínimas? Primeiro, não pode financiar todos os candidatos como aconteceu na eleição: a mesma empresa doava para Dilma, Marina e Aécio. Se você estar doando para os três, não é o exercício de um direito político. Se está doando para os três, ou você foi achacado ou está comprando favores futuros. Qualquer uma das duas possibilidades é péssima. Além disso, se a empresa doou para campanha, ela não pode depois contratar com administração pública, porque, senão, o favor privado que foi a doação de campanha vai ser pago com o dinheiro público. E há uma terceira restrição mínima, empresa que recebe financiamento do BNDES, ou financiamento público de qualquer natureza também não pode doar para a campanha eleitoral porque está usando dinheiro público. Tudo isso podia.
Como financiamento de pessoa física, pode haver uma caça ao CPF, com previu o ministro Gilmar Mendes?
Risco de corrupção existe em qualquer modelo. Esse modelo de empresa privada pode participar gerou o maior escândalo de corrupção da história do país. Quase tudo na vida pode ser usado para o bem e para o mal. Até amor, se você usar a quantidade errada ou no lugar errado, vai ser ruim. O risco de haver corrupção não me impressiona porque pode haver em qualquer modelo. No modelo que tínhamos, ela está comprovada. Agora, não temos tradição nesse modelo proposto? É verdade. Portanto, vamos tentar criar um sistema político de mobilização da cidadania. E não mobilização do sistema político do grande capital em busca de negócios no novo governo. Precisamos de menos estado e mais sociedade, precisamos de um capitalismo com mais risco e menos financiamento público. Um dos problemas atuais do Brasil é que o estado não cabe mais na sociedade e a sociedade não tem mais recursos para financiar esse estado. Vamos ter que viver um processo imenso de mudança de paradigma no Brasil. Todos os estados da federação estão quebrados. Quase todos estão com dificuldade de pagar a sua folha de pagamento, pelas transferências constitucionais obrigatórias que tem que fazer, pelo custeio, hospital, segurança pública, penitenciária. Esse três itens estão valendo por mais de 100% da arrecadação. Portanto, não sobra um vintém para investir em saneamento, que é a principal política, transporte, melhoria das rodovias. Criamos um Estado que a sociedade não consegue mais sustentar.
O que o leva a pensar que a crise vai passar rapidamente? Vai passar com Dilma?
Minha bola de cristal está meio embaçada… (risos)
O senhor foi muito veemente ao afirmar que a crise passaria…
Da cabala judaica ao budismo, um dos slogans é “tudo passa”. Para bem ou para mal. Espero que passe rapidamente. Vivemos uma crise política e econômica, felizmente não vivemos uma crise institucional.
E uma crise ética, não?
Vivemos uma crise ética, tanto no espaço público quanto no espaço privado. Embora isso seja um lugar-comum, acho que os momentos de crise são os momentos de grandes mudanças. E acho que a atual crise brasileira é um momento de mudança de paradigma. A crise econômica envolve um pouco a questão de que a sociedade não está cabendo dentro do Estado, que em parte é a crise de um país com demandas simultâneas, que não conseguiu conter os seus gastos.
Qual é a gravidade dessa crise ética?
Vamos ter uma mudança de patamar, espero. É a crise de uma sociedade que amadureceu, se tornou mais exigente, e que não se satisfaz mais com essa história de país do futuro. Quer fazer um país de verdade aqui e agora. Portanto, quer decência na política, quer serviços públicos de qualidade, quer que não se gaste mais do que se arrecada, porque a consequência é a inflação. Temos mudar também na ética privada, é preciso criar uma cultura na sociedade de boa fé objetiva, de não passar os outros para trás, de respeitar a fila, não ultrapassar pelo acostamento. O poder público muitas vezes litiga na Justiça recorrendo indefinidamente sem razão para procrastinar e depois não paga o precatório. Você cria uma relação pervertida entre o cidadão e o Estado. O Estado não é honesto com o cidadão, então o cidadão não se sente obrigado a ser honesto com o Estado.
Existe uma percepção de que a presidente teria força dentro do STF por conta das indicações. E um dos casos citados, até porque é um dos mais recentes, é o do senhor. Como vê essa questão?
Evidentemente, quando um presidente indica um ministro, ele tem poder. Ele tem ali 20 pessoas qualificadas, mas o presidente escolhe aquele com quem, por alguma razão, tem mais afinidade. Isso faz parte da nomeação de ministros em qualquer lugar do mundo.
VER COMENTÁRIOS