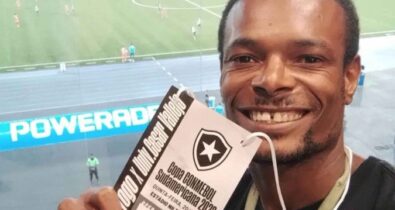Heteroidentificação étnico-racial
Yuri Costa (*) e Marco Adriano Fonsêca (**) – Defensor Público Federal e Professor UEMA (*) e Juiz de Direito TJMA e Professor ENFAM e UEMA (**)


O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) teve seu resultado publicado na primeira semana de fevereiro. O CNU é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, realizando conjuntamente a concorrência para diferentes cargos efetivos no âmbito federal. Ele foi organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), tendo suas diferentes etapas executadas pela Fundação Cesgranrio.
Na fase final do CNU, uma questão acabou ganhando destaque. Candidatos que esperavam concorrer a vagas como cotistas negros tiverem essa condição indeferida pela comissão de heteroidentificação étnico-racial do concurso. A insatisfação se deu sob diferentes argumentos: fundamentação genérica da eliminação de cotistas, negativa de acesso ao parecer da comissão, divulgação inadequada de sua composição e mudança de prazos para recursos contra o resultado. O principal motivo do questionamento, no entanto, foi a eliminação de pessoas que se consideram fenotipicamente pardas na concorrência das cotas.
Houve recomendações expedidas pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Federal, todas no sentido de adequação de procedimentos e critérios, permitindo uma maior lisura do concurso público. A negativa de cumprimento das recomendações levou a organização não governamental Educafro a entrar judicialmente com uma ação coletiva, pedindo inclusive a suspensão de posses decorrentes do CNU. A ação ainda está pendente de julgamento pelo Poder Judiciário.
O caso do CNU reacendeu uma discussão que de tempos em tempos ocupa os meios de comunicação e as redes sociais no Brasil: questiona-se se as comissões de heteroidentificação que validam a participação de candidatos como cotistas negros possuem critérios legais e coerentes. O debate é extremamente necessário e está ligado às expectativas da população em geral de entender o real significado e o procedimento dessas estruturas.
Inicialmente, é preciso diferenciar a autodeclaração étnico-racial da heteroidentificação. A autodeclaração consiste na afirmação identitária que uma pessoa tem de si mesma sob a perspectiva étnico-racial. É como declara sua raça, cor ou etnia. Constitui direito subjetivo, não podendo qualquer pessoa ou instituição impor a alguém sua autodeclaração.
Já a heteroidentificação é procedimento complementar na identificação étnico-racial necessária ao acesso a algumas políticas afirmativas, a exemplo das cotas para pessoas negras em concursos públicos. Ela surgiu como demanda histórica que superou a ideia de que bastava a declaração do candidato como pessoa negra para acessar a política de cotas. A realidade das fraudes e a cobrança dos movimentos sociais engajados no combate ao racismo levou à necessidade de construção de sistemas de controle, cujo formato mais aperfeiçoado é o das comissões de heteroidentificação.
Na prática, as comissões não “negam” ou “confirmam” a autodeclaração. Como visto, essa autoafirmação pertence à pessoa candidata e somente a ela. O que as comissões fazem é comparar a autodeclaração étnico-racial com a condição fenotípica do candidato para o fim específico de concorrer como cotista negro.
A constitucionalidade das comissões foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal desde 2017, quando julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41. Ali se afirmou o entendimento de que esses mecanismos não são apenas uma prerrogativa do poder público, mas um poder-dever do Estado. Em outras palavras, não pode a administração pública escolher livremente se instala ou não as comissões, sendo isso uma obrigação.
Muito se avançou desde quando, há aproximadamente duas décadas, as comissões passaram a ser regularmente aceitas e instaladas. Houve regulamentações de seu procedimento, sendo a última no âmbito federal a Instrução Normativa n. 23, publicada pelo MGI em julho de 2023. Além disso, investiu-se no aprimoramento da composição das comissões, na qualificação de seus membros e na construção de princípios norteadores da heteroidentificação.
O maior avanço no tema, porém, foi a definição segura do critério a ser seguido na heteroidentificação. Como visto, as insatisfações de candidatos do CNU destacaram a suposta falta de método da comissão, o que teria levado a decisões genéricas e à eliminação de pessoas que se reconhecem como pardas.
Hoje se definiu que a verificação da condição de pessoa negra deve ser feita exclusivamente com base na aparência do candidato, ou seja, a partir de seu fenótipo. Fenótipo é a apresentação fisionômica de uma pessoa. Numa perspectiva étnico-racial, o fenótipo destaca a cor da pele, a textura do cabelo e os traços faciais.
A missão da comissão de heteroidentificação é analisar como tais traços característicos são lidos socialmente, ou seja, qual a leitura social da aparência étnico-racial do candidato. O objetivo é avaliar como a pessoa candidata é interpretada socialmente quanto ao grupo étnico a que pertence.
O trabalho das comissões não se confunde com uma análise estritamente pigmentocrática. Por isso mesmo, na heteroidentificação são proibidos procedimentos como medições do corpo, exames dermatológicos, análises de documentos, verificação de ascendência, experiências pessoais de racismo ou engajamento da pessoa candidata. Nesse contexto, devem ser afastados especialmente métodos de cunho vexatório e atentatório à dignidade da pessoa humana, tais como a antropometria.
Há hoje igualmente uma noção mais tecnicamente construída sobre a definição de “pardo” na heteroidentificação. Ela reforça que as cotas raciais são destinadas aos pardos negros e não aos pardos socialmente brancos. Mesmo que a pessoa se declare parda, ela só será beneficiada pelas cotas se, na avaliação da comissão, apresentar características fenotípicas de uma pessoa negra. Assim, as cotas devem ser direcionadas tanto a pessoas pretas (de pele retinta) quanto a pardas (de pele não retinta), desde que estas últimas exibam traços visíveis da condição de negra.
Tudo isso ressalta a importância da motivação da decisão da comissão, que em boa medida é alcançada pela produção de um parecer adequado. Não pode haver simplesmente o registro de que o candidato foi aprovado ou não como cotista. É preciso, na hipótese de não confirmação da autodeclaração, apontar os elementos fenotípicos predominantes na decisão dos componentes da comissão.
O caso do CNU coloca novamente no centro do debate o necessário aprimoramento dos mecanismos hoje existentes para a garantia da política de cotas étnico-raciais. É preciso que as instituições transformem as comissões em estruturas permanentes, internalizando a política e resguardando ativamente a eficácia das cotas.